A violência sempre acompanhou a política como sua sombra inevitável. Desde as cidades-Estado da Antiguidade até os impérios modernos, a guerra foi concebida como instrumento legítimo de afirmação e defesa da comunidade, quase sempre voltada contra o inimigo externo, aquele que ameaçava as fronteiras e a soberania. Os conflitos internos, por sua vez, raramente eram compreendidos como lutas de sobrevivência existencial: tratavam-se, em regra, de disputas pelo poder, de contendas dinásticas ou de rivalidades entre facções, mas que ainda reconheciam a pertença comum à mesma ordem civil. O inimigo de dentro era um concorrente ao trono ou à magistratura, não uma ameaça à continuidade da nação. Ressalvados os casos em que havia uma revolta generalizada contra a tirania, essa distinção preservava um mínimo de unidade, impedindo que a política interna se convertesse em guerra civil permanente.
+ Leia mais notícias de Política em Oeste
Durante algum tempo, o Ocidente moderno alimentou a convicção de que a violência política havia ficado para trás. Depois das guerras religiosas, da fragmentação da cristandade e do caos dinástico dos séculos 16 e 17, acreditou-se que as instituições do Estado moderno e, mais tarde, as democracias constitucionais, funcionariam como freios civilizatórios. O que antes era resolvido pela espada ou pela fogueira passaria a ser decidido no parlamento e no tribunal. A política, nesse imaginário, deixou de ser o campo de inimigos mortais e se converteu em espaço de divergência regulada, onde as paixões individuais seriam decantadas em debate racional. O liberalismo político personificou essa crença ao propor que constituições, eleições e tribunais bastariam para domesticar os instintos violentos e transformar a inimizade em adversidade.
O livre debate de ideias parte do pressuposto de que seu adversário político não é seu inimigo, mas alguém que deveria ser convencido pela razão. Essa concepção, por sua vez, está alicerçada no princípio de que ambos os interlocutores são dotados de uma dignidade intrínseca que os iguala formalmente, o que possibilita a formação de um consenso através do confronto racional e civilizado de ideias. Mas essa promessa moderna foi solapada pela fé revolucionária que, em vez de confiar no jogo institucional, passou a instrumentalizar a violência como arma política.
Desde a Revolução Francesa, a guilhotina não é acidente, mas programa. A revolução não busca reformas: exige a destruição do mundo existente e, para isso, precisa justificar o uso ilimitado da violência como parteira da história.
Para Carl Schmitt, a essência do político está na distinção entre amigo e inimigo. O inimigo privado (inimicus) é alguém com quem se disputa, mas com quem ainda é possível a convivência. Já o inimigo público (hostis) é existencial: sua permanência representa uma ameaça ontológica à comunidade. O que a mentalidade revolucionária faz é converter adversários políticos em inimigos ontológicos. O dissenso deixou de ser divergência e passou a ser demonização: o outro já não é um cidadão com opiniões distintas, mas um obstáculo a ser eliminado.
Essa transfiguração revela a natureza religiosa da fé revolucionária. Trata-se de uma religião secularizada, sem transcendência, que substitui Deus por utopias históricas. É “uma ideia religiosa que enlouqueceu”, pois conserva a estrutura da fé — promessa, escatologia, dogma, heresia —, mas desloca seu objeto para projetos terrenos. O revolucionário, apaixonado por suas próprias ideias, acredita poder refazer o mundo à sua imagem e semelhança. Nesse sentido, ele encarna o arquétipo luciferiano: o anjo que se enamora da própria criação e deseja ocupar o lugar de Deus.
Eric Voegelin descreveu esse fenômeno como a “imanentização do escaton”: a tentativa de trazer para a história o que pertence à eternidade. O paraíso, que antes era promessa transcendente do pós-vida, é anunciado como realização política. Essa operação dá origem ao que Voegelin chama de “fé metastática”: a esperança de redenção deslocada para sistemas ideológicos — comunismo, nazismo, progressismos de toda ordem. Essa fé secularizada autoriza e justifica o massacre do inimigo no altar da revolução.

A própria linguagem desses movimentos reflete seu caráter religioso. Aqueles dissidentes que ousam duvidar dos dogmas da Fé Revolucionária são hereges, serviçais do inimigo que impedem o nascimento do “novo homem” e a criação do paraíso terreno. O resultado está à vista. O século 20, sob o signo da utopia, produziu dezenas de milhões de mortos. O comunismo, em especial, ergueu-se como religião política que prometia igualdade e paz, mas entregou campos de concentração, fome e expurgos. Sempre em nome das melhores intenções, sempre em nome do “bem comum”. A história recente mostra, assim, que a fé revolucionária não conduz ao paraíso, mas ao inferno na Terra.
Mas a caracterização do outro como “hostis” não é o suficiente, afinal, aquele inimigo ainda se parece muito com o próprio revolucionário: é um indivíduo concreto, que vive, sofre, ama e idealiza; que tem filhos, esposa, pai e mãe — ainda é humano demais. Esse obstáculo é superado mediante um processo constante de corrupção da linguagem que busca a demonização e desumanização do outro. Ele se perfaz pela adjetivação política: “nazista”, “fascista”, “supremacista”. Tais rótulos não pretendem descrever, mas desfigurar. O adversário é arrancado do espaço da interlocução legítima e lançado fora da comunidade moral. Não é mais pessoa, mas monstro. A consequência lógica é o chamado à sua eliminação física: se o outro é hostil à própria humanidade, sua morte deixa de ser tragédia e passa a ser dever.
A política moderna, quando cede à tentação revolucionária, deixa de ser a arte de governar homens imperfeitos e passa a ser idolatria de ideias que exigem sacrifícios humanos. Aqui reside também o vínculo profundo entre ideologia e violência. A fé revolucionária não pretende descrever o mundo; mas recriá-lo a sua própria imagem, em um teatro macabro que se recusa a reconhecer qualquer medida fora de si. O sonho revolucionário, que se apresenta como promessa de redenção, revela-se pesadelo real, como a mais violenta forma de niilismo: a destruição do humano em nome de uma ideia.
Leia também: Charlie Kirk era mais antifascista que a maioria da esquerda, artigo de Brendan O’Neill, da Spiked, publicado na Edição 288 da Revista Oeste
Eis, portanto, o ponto decisivo: o movimento revolucionário não é apenas um fenômeno político; é a mais profunda negação da civilização ocidental. Ele se apresenta como redentor, mas age como parasita: promete liberdade e produz escravidão; proclama igualdade e multiplica privilégios; fala em fraternidade e semeia ódio. É a força anticivilizatória por excelência, porque substitui a prudência pela hybris, a limitação pelo absoluto, a vida concreta pelo mito histórico.
Não há criatura mais perigosa que o homem tomado por uma fé metastática — a crença de que a salvação depende da aniquilação de seu próximo. Charlie Kirk, um indivíduo que acreditava no diálogo e na verdade como instrumento na busca pelo consenso, é a mais recente vítima da mentalidade revolucionária, mais um daqueles sacrificados no altar das boas intenções depois de ser desumanizado pela mídia.
Esta é a lógica demoníaca que percorre o século 20 e se prolonga em nossos dias: o inimigo não é alguém a ser persuadido, mas alguém a ser eliminado. Primeiro, elimina-se sua dignidade pela palavra — fascista, nazista, reacionário. Caso o ostracismo e a demonização não sejam capazes de calar o inimigo, elimina-se sua vida pela força. É a mesma mecânica, sempre repetida, que transforma a política em guerra civil permanente, que substitui o diálogo pela destruição, que troca a busca do bem comum pela idolatria da violência.


E aqui vale recordar a advertência de Soljenítsin, sobrevivente do inferno soviético: “A linha que separa o bem do mal não passa entre Estados, nem entre classes, nem entre partidos — mas atravessa o coração de cada homem.” É nesse coração, quando tomado pela fé revolucionária, que se crê capaz de salvar a humanidade pela violência, que o mal encontra sua morada mais profunda.
Se há uma via de escape desta espiral, ela passa por um retorno consciente aos princípios basilares que sustentam a civilização ocidental: a dignidade intrínseca do homem, a inviolabilidade do indivíduo perante o Estado e a possibilidade do dissenso democrático como forma legítima de resolver conflitos públicos. É obrigação ética da mídia, da academia e das correntes moderadas da sociedade civil repudiar com clareza e firmeza a mentalidade revolucionária, pois, quando se nega ao adversário o direito ao debate civilizado e se o reduz à condição de inimigo existencial, a política retorna à sua forma mais primitiva — luta pela própria sobrevivência. E, quando o único caminho que resta a um homem é salvar-se pela força, o desfecho raramente será humano.
*João Paulo Seixas é advogado e consultor político, mestre em Direito, autor do livro Poder e Federalismo no Brasil e nos EUA e articulista do Instituto Liberal.
Leia também: Vítimas da intolerância, reportagem de Anderson Scardoelli publicada na Edição 288 da Revista Oeste
Fonte: Revista Oeste



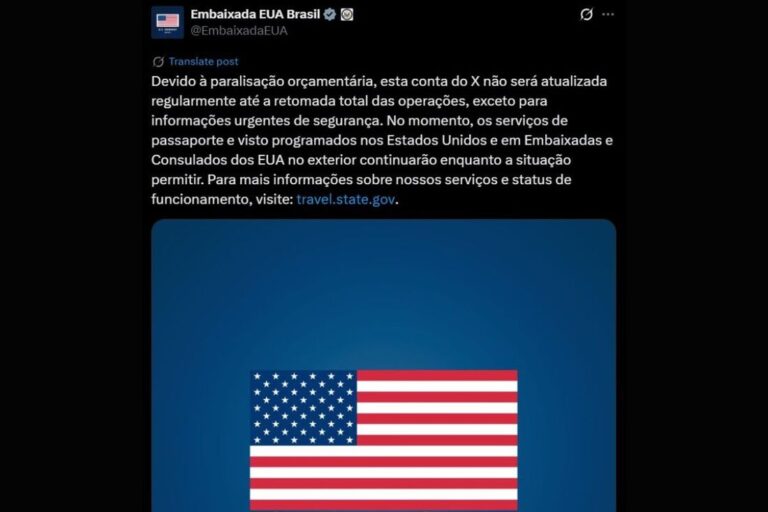





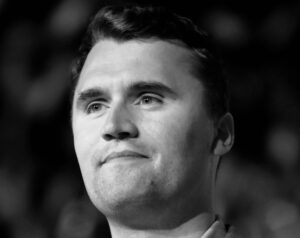

+ There are no comments
Add yours